Desde que tenho memória, há nela alguma relação com universidades. Quando era criança pequena lá em Guadalupe, um pequeno longínquo bairro da mui leal cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, convivia com a vida universitária de meu pai, trabalhador da segurança pública que resolveu virar “dotô” aos quase quarenta anos. “Seu” Gilson se orgulhava muito de ter se tornado bacharel em direito pela UFRJ aos quarenta e um anos, mais do que ser Detetive-inspetor da polícia civil do Rio de Janeiro, e lidava com isso com o mesmo orgulho que eu lido hoje por ter a chance de ser um doutorando em história pela Universidade Federal de Pelotas.
Porque nem a graduação dele, nem meu quase doutorado foram conquistados no kinder ovo, ainda mais sendo em uma universidade federal. Além disso, talvez nós cariocas tenhamos um defeito enorme de respeitar para caramba termos uma universidade federal em nossa cidade, o mais estranho é que os niteroienses também se orgulham de sua UFF, e os capixabas que conheci se orgulhavam de sua UFES ou os meus amigos mineiros de Belo Horizonte ou de Montes claros se orgulham de sua UFMG e UNIMONTES. Outras pessoas insanas são os porto-alegrenses e seu orgulho da UFRGS.
Já os pelotenses, os médios ou não, tem um problemaço com a UFPEL e eu desconfio que é porque ela representa a chance de quem se forma ou se torna mestre ou doutor por ela sair de Pelotas, mas isso é uma dedução advinda do ITdK, ou Instituto Tirei do Karma (é outro nome, mas proibido neste horário), a questão real é que há uma rejeição de discussão do papel da universidade na cidade, mesmo ela sendo central para vida econômica, social e cultural do município.
Qualquer debate em torno dos problemas da UFPel se transforma numa atrapalhação de planos que nunca são feitos, em qualquer partido, em qualquer lugar, o tom é quase sempre o mesmo. Praticamente só quem se importa com os rumos da UFPel são os discentes, docentes e servidores Técnico-administrativos em Educação,mesmo sendo um caso onde o orçamento da universidade tenha um peso gigante direto e indireto na sobrevivência desta ex rica cidade esquecida pelo Deus do desenvolvimento.
Com um orçamento de cerca de 70 milhões, a UFPEL está longe de ter o peso da UFRJ, a maior universidade do país e que em 2021 tinha um peso de 31 milhões mensais, gastos em serviços, salários,etc e que geraram uma circulação econômica para cidade do Rio considerável, mesmo sendo uma capital com orçamento bilionário, mas o impacto da UFPEL na economia de Pelotas é tão considerável que mexe com o mercado imobiliário e de consumo diretamente.
Em 2015, a UFPEL tinha 18,4 mil alunos e 2,6 mil servidores, fora os professores, e todos impactam a economia da cidade, consomem na cidade, gastam energia elétrica na cidade, pegam Uber ou ônibus na cidade, gastam gasolina, tomam seu cafezinho, ainda mais com uma população que gira em torno da universidade e que está perto de ser em torno de 1% da população total de Pelotas.
Falta aumentar a integração entre Universidade e o Município? Falta. Falta uma campanha para reitoria que pense nisso e uma campanha para prefeito que identifique isso? Falta, mas é estranho que os debates nos fóruns políticos de pelotas sejam feitos ignorando a contribuição da universidade e como os efeitos de seus rumos políticos interferem nos rumos políticos da cidade.
Os governos do PSDB e do PP que destroem a cidade não ocorrem por acaso, ocorrem pro uma cultura que nega a necessária construção de uma relação entre município e universidade como dois companheiros de uma viagem em que a população exige e necessita que uma harmonia e simbiose entre ambos forneça a produção de dias melhores para todos.
Desde convênios na saúde a projetos com a Engenharia, é enorme a quantidade de meios que outros estados e municípios deixam como exemplo para nós, especialmente a esquerda, e o que fazemos com isso?
A experiência como militante do PSOL e agora do PT em Pelotas não é auspiciosa. E em contato com companheiros de outros partidos de esquerda não é incomum ouvir a mesma coisa: a companheirada, e parte significativa da população, rejeita a universidade em seus discursos e falas.
Claro, o elitismo que cerca o meio universitário é refletido nessa relação, mas ele também existe nas universidades do país todo e a população tem uma relação com isso de forma diferente, sabendo diferenciar a tolice do elitista da necessidade de ter uma universidade.
Um caso clássico dessa relação de valorização pelo povo de suas universidades é a UERJ sendo respeitada e defendida por deputados de direita na ALERJ pelo eco negativo de suas impopulares tentativas de fechá-la, obrigando os nobres parlamentares miliciano-fascistas a arrumarem meios alternativos de destruí-la, como aparelhar a universidade em esquemas de corrupção.
O mesmo ocorre na USP ou na UNIFESP, ou na UFES, na UFC, mas em Pelotas não. O mesmo orgulho que perambula sorrisos quando um filho vira “bixo” some nos papos de boteco e cafeterias. Nos fóruns virtuais a virulência é maior, nos jornais a UFPel só entra quando assunto é polêmico. E nos debates partidários muitas vezes a UFPel é mencionada como um embate que atrapalha até a ausência de debates.
Não é pouco o problema, ainda mais quando se vê que em todo canto é prioritário para esquerda debater desde a participação ou não na UNE até as disputas da reitoria e DCE, em Pelotas não.
A naturalização da desimportância de algo tão importante ou até de uma espécie de elefante na sala de um município que tem uma jóia, mas cisma em achar que não precisa dela, é um fenômeno raro para observadores mais atentos.
Diante de uma crise que envolve os três setores que compõe a universidade, ignorar o impacto político de cerca de 1% da população consumidora da cidade em pé de guerra por questões políticas internas da universidade, mas que também impacta internamente o campo da esquerda e pode gerar problemas em nosso confronto contra o fascismo, é tipo não tratar um câncer de pele porque acredita no uso de babosa.
É um caso clássico de negacionismo político e histórico, é como pregam os anti-racistas Morgan Freeman (Se não falar sobre algo ele desaparece), só que não adianta ignorar algo que é inerentemente impactante no dia a dia político da cidade e das cidades, e tem reflexo direto na forma como a juventude enxerga a política e os partidos políticos, em como a população percebe o cotidiano político e em como nós vamos lidar uns com os outros daqui a três meses, que é perto para caramba das eleições municipais.
Às vezes os discursos são apenas hipérboles ou slogans, mas às vezes eles significam a semeadura de desastres, e por vezes o que ninguém diz é uma forma eloquente de expressão.
Diante dos conflitos que estão acontecendo nas eleições para a reitoria, o que estamos realmente dizendo para a cidade, para a esquerda e para nós mesmos?
Não é uma pergunta para saber quem tem razão, mas uma pergunta para saber quem e o que vai sobreviver politicamente depois do processo.





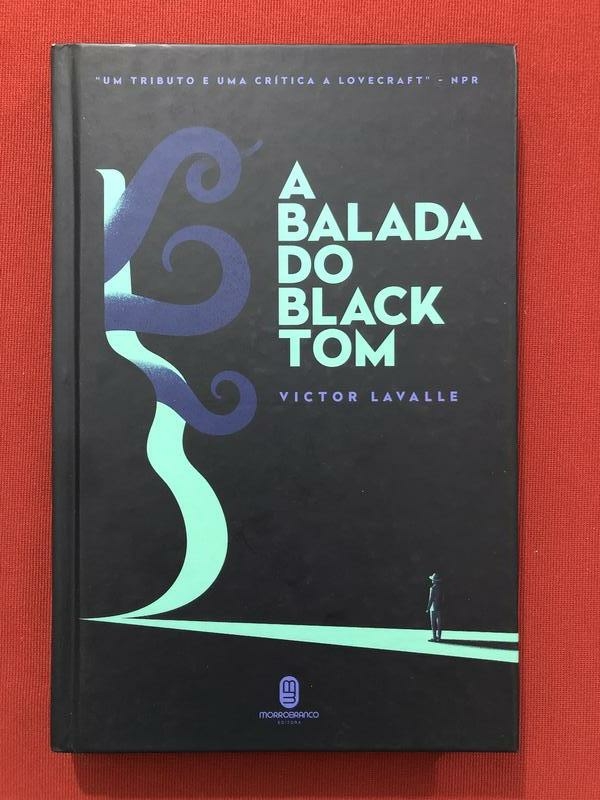







Você precisa fazer login para comentar.